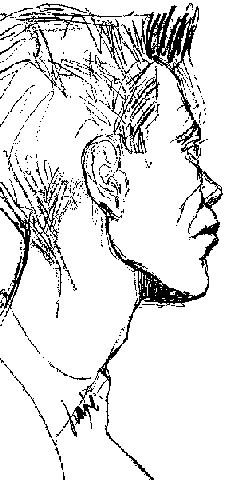
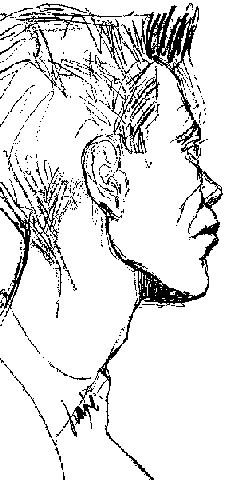 |
Poemas InfernaisReinaldo Ferreira |
1) A Estátua Jacente;
2) D. Bailador-Bailarino;
3) Bispo de Pádua;
4) O ponto.
Só o primeiro dos quatro poemas chegou a ser completado e foi mesmo publicado. E são justamente os «Poema Infernais» aqueles cuja falta de acabamento mais desespera os admiradores do génio de Reinaldo Ferreira. Tanto assim que, considerado o valor da obra, logo se decidiu, após breve troca de impressões, que ela não podia deixar de ser publicada, até pela simples razão de lá se encontrarem versos de majestosa orquestração e soberba perfeição formal.
Todavia, conhecedores da intenção, repetidas vezes manifestada pelo autor, de agrupar os quatro poemas, e tendo ele mesmo escolhido já, para a tetralogia assim concebida, a designação de «Poema Infernais», entendemos que seria atraiçoar o seu pensamento limitarmo-nos a reproduzir «A estátua jacente» e os fragmentos que ficaram do «D. Baialdor-Bailarino», do «Bispo de Pádua» e de «O ponto», sem mencionar nem pôr em relevo o sentido daquela unificação sentida e pretendida pelo poeta. Tanto mais que é pela integração na «configuração estruturada de um todo significativo», como parte de uma verdadeira « Gestalt» no sentido de Wertheimer e de Köhler, é assim que cada um dos quatro poemas ascende à dignidade que lhe compete e revela, com vigor, o seu verdadeiro e profundo significado. Como, mais adiante, se verá.
Outra razão importante - esta uma razão de ordem sentimental, uma daquelas razões que «la raison ne connaît pas» -, que influenciou também a decisão que tomámos, foi a confirmação, encontrada no espólio, de um facto aliás já bem conhecido de alguns de nós: o facto de Reinaldo Ferreira ter dedicado aos «Poema Infernais» um carinho especial e de lhes ter concedido, no esquema de classificação e valoração que presidia ás suas esporádicas tentativas de arrumação, um lugar à parte e muito privilegiado. Tanto assim que, com uma única excepção, nunca vimos que sobre eles se desencadeasse nenhuma daquelas furiosas e destruidoras rajadas de autocrítica de que muitos poemas foram vítimas e de que outros só a custo sobreviveram.
Ainda mais: é nos «Poema Infernais» que se encontram alguns dos mais antigos e alguns dos mais recentes versos que Reinaldo Ferreira escreveu. Esses poemas mantêm-se teimosamente presentes ao longo da dimensão temporal de toda a obra do poeta, de tal modo que parecem constituir um fulcro ao qual podemos atribuir também a dignidade de uma geratriz.
A morte não permitiu que o grande poeta e grande pensador acabasse e articulasse umas com as outras as peças constitutivas da obra que devia ser, com certeza, a mais profunda e pujante de todas as manifestações do seu génio. E dos fragmentos que publicamos é difícil, se não impossível, deduzir as motivações da pretendida unificação e compreender o verdadeiro significado da «configuração estruturada» em que todos esses fragmentos se achariam naturalmente ligados. Daqui resulta a necessidade desta «nota explicativa», que nos atrevemos a elaborar socorrendo-nos da recordação de frases ouvidas e do teor de discussões sustentadas. E embora saibamos quão duvidoso e discutível é sempre o valor real de tais elementos, ficaremos teimosa e consoladoramente convencidos de que a interpretação que apresentamos não atraiçoa o pensamento de Reinaldo Ferreira.
Como entendemos e sentimos nós, então, os «Poema Infernais»?
Considerada como aniquilamento total do ser, a morte não atemorizou nunca Reinaldo Ferreira nem sequer constituia objecto digno de sobre ele se exercerem as suas cogitações. Em relação a esta morte total, a sua posição intelectual era a mesma que um filósofo antigo definiu em termos clássicos:
Nada me interessa nem incomoda aquilo que não poderei nunca conhecer. Por isto me não interessa a morte. Enquanto eu estiver neste mundo não a encontro e, quando ela chegar, não me encontra a mim.
A esta morte assim concebida, não só Reinaldo Ferreira a não temia como chegava, até, a lisonjeá-la e a desejá-la («irmã desejada», etc.), sempre que mais fortemente se sentia atraído pelo refúgio da evasão.
Reinaldo Ferreira era um homem muito inteligente, que sabia raciocinar e gostava de pensar. Mas, desgraçadamente para ele, era também um poeta, um grande poeta; o que significa que sentia e vivia uma visão poética do mundo que se sobrepunha a qualquer outra via de compreensão possível. E um poeta, dêem-lhe as voltas que derem, não é capaz de aprender a acreditar, com verdadeira convicção, na morte total.
Pode fingir que acredita, quando discute o problema em cenáculos intelectuais. Mas leiam-lhe os poemas... e logo verificarão que se operou, nas suas ideias, uma mudança radica. A morte, na poesia, passa a ser consoladora - como se quem não existe pudesse ser consolado -, e a morte é reveladora - como se alguma coisa pudesse ser revelada a quem não existe -, a morte é justiceira - como se não fosse a vida a mais indispensável das condições prévias para que se efective o acto de julgar -, etc., etc. ... Para o poeta a morte é sempre, necessariamente, uma morte viva. Para que disto fiquemos convencidos basta relembrar aquele pandemónio do «Orfeu» apresentado por Cocteau, segundo ele o afirma, como resultado final de muitos anos de investigação poética acerca do problema da morte.
E não admira nada que isto seja assim. Deve mesmo, obrigatoriamente, ser assim. E não só no que respeita aos poetas. O mesmo acontece com todos os artistas...
O mundo que o verdadeiro artista intui e se esforça por descobrir e revelar transcende o nosso mundo, o mundo dos mortais. E é só neste mundo que se depara ao artista o fenómeno da morte, e não no seu outro mundo, no mundo da arte, ainda tão nebulosamente definido que até parece ser o inefável um dos seus atributos.
Assim, facilmente se torna compreensível que aquilo que atemoriza Reinaldo Ferreira seja a sobrevivência, não o aniquilamento. Tanto mais que - e é este o significado profundo dos quatro «Poema Infernais» - a sobrevivência só pode ser concebida pelo poeta em termos de inferno. Sobreviver, sejam quais forem as condições de sobrevivência, não pode deixar de ser um verdadeiro inferno.
E porquê? Porque há-de a sobrevivência ser necessariamente um inferno?
A alma humana deixa-se definir, apenas, pelos impulsos que a alimentam. E, sendo isto assim, acaso pode imaginar-se mais horrorosa e infernal condição de que a vivência perpetuada de impulsos que perderam a sua razão de existir? Sobreviver é, sempre, viver num inferno.
Na «Estátua Jacente» o inferno define-se pela perpetuação dos mais grosseiros impulsos materiais, aos quais a morte do corpo tirou todas as possibilidades de expressão, quanto mais de satisfação... O inferno é a consciência mantida de desejos cujo objectivo se perdeu:
... meus cinco sentidos,
Desenfreados agora
Os tinha, mais do que outrora,
Buscando os vícios preferidos.
Num único verso se acha mencionado o remorso, e isto ocorre de maneira casual e como que ao correr da pena, já que a consciência moral não justifica o sofrimento de maneira que este possa ser logicamente admitido como merecida punição. O tormento infernal resulta essencialmente da consciência da impossibilidade, considerada como irremediável e perpétua, de satisfazer os impulsos grosseiros que perpetuamente subsistem.
O Inferno de «D. Baildador-Bailarino» parece-nos ser o mais misericordioso e suave de todos os infernos, de todas as condições infernais impostas pela simples circunstância de sobreviver. Não se trata, todavia, de uma clemência arbitrariamente dispensada ao bailarino; o que se verifica é apenas o inevitável efeito moderador que devem exerce, na morte, aqueles factores que, na vida de todos os artistas, servem de núcleo de angústia e fomentam uma ânsia torturante de expressão.
D. Bailarino é um artista e, pelo facto de o ser, o que dá feitio e força à sua alma é o impulso de exprimir e descrever o «outro mundo», utilizando para isso alguns dos meios de que dispomos neste mundo. E só por se tratar de um bailarino acontece ser usado o corpo humano como veículo da expressão, corpo humano que, para esse efeito, é ensinado a servir de apoio no «adágio», a exibir-se na «atitude», a levitar na «elevação», a desafiar o tempo no «entrechat».
Se o artista, em vez de ser um bailarino, fosse um pintor, utilizaria, para o mesmo fim, exactamente para o mesmo fim, em vez do material imediatamente fornecido pelo seu próprio corpo, as linhas e as cores, as proporções e as perspectivas; se fosse um músico recorreria a desenvolvimentos melódicos e combinações harmónicas; e se fosse um poeta, então, enfrentando bem maiores dificuldades, servir-se-ia daquela maneira peculiar de violentar a semântica por meio da qual a poesia consegue transfigurar o significado dos vocábulos, até mesmo dos vocábulos mais triviais, daqueles que a gente diariamente emprega na conversação sem sequer se aperceber do tal «outro mundo» que, por meio deles, algumas vezes chega quase, mesmo quase, a revelar-se.
A finalidade do artista - poeta, pintor, bailarino, etc. - é sempre a mesma. Trata-se sempre da mesma furiosa tentativa de extrair um outro mundo dos interstícios deste mundo e de comunicar aos outros homens, a todos os homens, utilizando os meios de expressão de que os homens dispõem, o teor e o significado desse outro mundo que, muito descaradamente ou com muitíssima razão, o verdadeiro artista julga sempre ter entrevisto, quando não descoberto, como digna recompensa das suas tormentosas jornadas nas dimensões do inefável.
A irremediável tragédia do destino do artista resulta desta trágica circunstância: ele vê, sente e sabe muitíssimas coisas que nós não vemos nem sentimos nem sabemos. Desgraçadamente, para comunicar o conteúdo da revelação que lhe foi outorgada, ele não dispõe de outros meios de expressão que não sejam aqueles que todos nós conhecemos. Daí a incongruência, o seu tormento em vida e o seu privilégio na morte.
Os movimentos alados do áptero bailarino não podem ser interpretados como forma primitiva de descarga da sua tensão nervosa (como no ataque convulsivo do epiléptico) nem como expressão já mais elaborada de sentimentos de frustração e conflitos individuais (como nas movimentadas e teatrais exibições dos histéricos). O bailarino mais não faz que utilizar, como veículo de expressão, as transformações que uma motilidade disciplinada e treinada consegue produzir no aspecto e significado global do seu corpo em movimento. E é de supor que D. Bailarino, quando
Acorda para o tormento
De não ter movimento
possa sentir de qualquer maneira compensado o aniquilamento das suas possibilidades de expressão pelo privilégio que lhe foi outorgado de contemplar, enfim, aquele mundo que, em vida, ele podia só adivinhar e sentir como presença vaga e inefável
De todos os infernos da sobrevivência, o mais misericordioso deve ser aquele que a sobrevivência impõe ao artista...
Passemos agora a considerar o «Bispo de Pádua». Dos quatro «Poema Infernais» foi este, sem dúvida, o que mais sofreu o efeito das cruéis amputações que a foice da morte, já tão estupidamente manejada quando ceifou o poeta, quis ainda operar, como cabal demonstração da força da sua estúpida cegueira, nos vários poemas que só mutilados e truncados permitiu que chegassem ao nosso conhecimento. Ao «Bispo de Pádua» não concedeu a morte nenhuma oportunidade para que ele atingisse, sequer, um esboço suficientemente significativo de expressão verbal.
Quase no início desta «nota explicativa», quando aludimos ao carinho especial que Reinaldo Ferreira dedicava aos seus «Poema Infernais», não nos esquecemos de mencionar uma excepção, uma única excepção; e foi justamente o «Bispo de Pádua» o que por ela sofreu.
O excelso tonsurado, o «malabarista arguto das mil e uma regras da lógica formal», o subtil doutor, cuja bem temperada argumentação peripatético-escolástica conduziu sempre todos os adversários do dogma à humilhação da derrota e ao mutismo da estupefacção, o homem íntegro que, «firme desde o início, recusaria o sólio pontifício no transe aflitivo de Avinhão», aquele que mereceu ao doce céu de França manifestações de condolência tão sentidas e tão plúmbeas, embora numa «excelsa e moderada academia»a sua vizinhança fosse disputada como «rara regalia», apesar do seu reconhecido valor e indiscutíveis méritos e apesar da sua provecta idade - alguns dos versos do «Bispo» são, com certeza, dos primeiros que Reinaldo Ferreira escreveu, ou, com maior precisão, dos mais antigos que se encontram no seu espólio -, nem mesmo possuidor de tantos e tão estimáveis dons, nem mesmo assim o venerando clérigo conseguiu conquistar o afecto e despertar o interesse do seu progenitor, senão muito tardiamente.
Ai dele e ai de nós! Tão tardiamente que a morte, antecipando-se, fez com que esfriasse o sopro criador a que ele devia a existência e, cortando-lhe as possibilidades de expressão, condenou-o a um mutismo quase tão inexpressivo como o mutismo embasbacado a que o erudito teólogo costumava forçar os seus oponentes de antanho.
Reinaldo Ferreira não gostava do «Bispo de Pádua», achava a sua esperteza discutível e ridícula, criticava-lhe os costumes e condenava-lhe as tendências. Num dos raros ímpetos de quase-fúria que lhe conhecemos chegou a classificar «aquela versalhada» como «ridículo estendal de pseudo-erudição».
Foi chamada a sua atenção para o facto de nos parecer impossível - a nós, embora a nossa condição fosse a de admiradores e não a de críticos - excluir da expressão poética de um «inferno intelectual» a erudição que inevitavelmente resulta do exercício da inteligência. Parece que o argumento produziu o resultado que pretendíamos: não só Reinaldo Ferreira indultou o prelado como até o deixou passar no exame. Infelizmente muito tarde, tarde de mais. A morte apressou-se e não deu tempo ao hábil adversário de Averrois para que ele definisse com precisão a natureza do inferno para onde a eternidade o atirou. Conforte-nos a certeza de que, embora precocemente privado daquela arrebatadora força convincente que só a expressão poética adequada pode dignamente veicular, o que o «Bispo de Pádua» chega a contar, depois de conjugado com várias coisas que Reinaldo Ferreira disse, constitui material de informação suficiente para que a gente possa imaginar bem a natureza do seu inferno.
Pobre «Bispo de Pádua»... Coube-lhe, a nosso ver, o pior de todos os infernos por onde o moderno Virgílio nos conduziu até agora! O bispo da «Estátua Jacente» sofre por manter apetites grosseiros que deixou de poder satisfazer. «D. Bailarino» sofre por não poder exprimir já, na maneira da sua arte, o que ele pensava que entrevia ou lhe era revelado do outro mundo, mas parece-nos justificada a suposição de que o tormento de se encontrar perpetuamente privado dos seus usuais meios de expressão fica mais que compensado pelo deleite de ver, alfim, o que antes só podia entrever.
Pobre «Bispo de Pádua»... O seu tormento é o mais cruel de todos, até por ser, também, o mais ridículo, o que mais se presta a troça...
Trata-se do «inferno intelectual», expresso na tortura de uma infinita e perpetuada ânsia de compreensão que dispõe apenas, para satisfazer-se, de instrumentos totalmente inadequados.
Imagine-se o caso do ciclista que caiu no mar na sua bicicleta e no qual se perpetua, depois de afogado, obrigatoriamente mantido pelo facto de sobreviver, o estúpido impulso de pedalar, sem nenhuma finalidade nem sentido.
Quanto não há-de sofrer uma alma definida, sobretudo, pelo impulso de conhecer, e viciosamente exercitada no uso das regras que o homem descobriu para verificar a autenticidade do seu conhecimento deste mundo, uma vez forçada a sobreviver num mundo em que deixou de ser possível, e se tornou até absurda, a aplicação de tais regras!...
Que terrível e ridículo inferno o do «Bispo de Pádua», obrigado pela sobrevivência a manejar eternamente uma complicada engrenagem de silogismos sem nenhuma relação aproveitável com a super-realidade de uma existência hiperdimensional...
Ao «Bispo de Pádua» segue-se «O Ponto», inferno ontológico e metafísico que, sem que imediatamente acorde horrorosos ecos de tortura na nossa timopsique, constitui, não obstante, a chave da abóbada tão genialmente edificada sobre três fustes aparentemente tão díspares, conferindo-lhes insólita similitude e convincente homogeneidade.
Tal como chegou às nossas mãos, «O Ponto» tem apenas quatro versos:
Mínimo sou,
Mas quando ao Nada empresto
A minha elementar realidade,
O Nada é só o resto.
Não sabemos se Reinaldo Ferreira tencionava desenvolver este grande poema de quatro versos. Mas como também não podemos imaginar nenhuma possibilidade de desenvolvimento capaz de conferir, à singela formulação que encontrámos, um significado mais profundo ou uma maior beleza, não nos achamos autorizados a afirmar que se trata de um poema incompleto. Que seja o leitor a julgá-lo...
É este inferno supremo, o de «O Ponto», aquele pelo qual se estabelece e garante a nossa sobrevivência e, deste modo, a inevitável existência de todos os outros infernos.
Em vários poemas, uns publicados, outros completados e outros apenas esboçados, manifesta Reinaldo Ferreira uma decidida tendência para definir o seu «ser» por meio de termos geométricos que definem o ponto. Se quisermos adoptar as formas de expressão do existencialismo, quase sempre tão confusas mas ainda hoje tão em moda, podemos afirmar que Reinaldo Ferreira considera como um ponto o ser que neste mundo se manifesta, o In-der-Welt-sein, e interpreta como movimento a sua maneira de existir, o seu So-sein.
Duas rectas que se cruzam,
Eis um ponto;
Esse ponto , em movimento,
Há-de ser recta também;
E essa recta e outra recta
Hão-de formar novo ponto,
Novo ponto
Nova recta
E sempre assim sem remédio!
Eu sou um ponto nascido
De duas vidas cruzadas...
Todavia, embora do seu movimento nasça a linha, o ponto mantém todas as prerrogativas que lhe confere a sua falta de dimensões; que remédio senão aceitar também as trágicas consequências da sua indestrutibilidade... O ponto que se move deixa uma linha como trajectória. Mas quando a linha acaba, isto não significa que tenha desaparecido o ponto; apenas que cessou o seu movimento.
Inevitável sobrevivência, a do ponto; mesmo quando penetra no Nada... o Nada é só o resto.
Em plena consciência deliberámos publicar os «Poema Infernais» integrados num todo articulado e significativo, como era intenção do autor. Pareceu-nos necessária esta nota explicativa para pôr em evidência o sentido da arrumação.
Talvez haja, de facto, males que vêm por bens... Talvez nós, por termos sido iniciados pelo poeta no pretendido significado dos «Poemas Infernais», entendêssemos que o poema descoberto podia constituir material suficiente para unir os outros entre si, de maneira sólida e explícita.
Agora, depois de bem vistas e ponderadas as coisas, voltámos à convicção de que a «nota explicativa» é necessária. Mas decidimos publicar o poema atribuindo-lhe a designação, que o autor não conferiu, de
Já me não basta morrer; Tanto me falta a certeza Que paro todo de ser Na Vida sem mim ilesa. Morrer é pouco. Destrói A ordem do que, disperso Apenas, logo constrói. - Constante do Universo... - Mas o mais ? Essa energia Contínua, que permanece, Elo de nós, dia a dia... Não sei pensar que ela cesse. Nem sei, de tanto que a sinto - Alma não, que não a creio... - Se sou sincero ou se minto, Ébrio do próprio receio.
Mandei, mundano, talhar Esta galante postura. Ai de mim!, que a desventura Dura o que a pedra durar! Latinas frases austeras Dizem de mim ilegíveis, As mil virtudes possíveis À pressão das sete esferas. O nome, farto e faustoso Com que de nada me enchi Horizontal, o esqueci Da altura do meu repouso. Mas sempre sofro, emanando Das cinzas por mim guardadas, Memória de horas danadas Que vão meu sono acordando. Bispo fui; amando a guerra, Cego ao aceno dos céus, Troquei a graça de Deus Pelas miragens da terra Fui cobiçoso, mesquinho, Falso, cruel, intrigante, E numa orgia infamante Pequei a carne e o vinho. Morto me acharam um dia No leito; tão decomposto Que pelos restos do rosto Ninguém já me conhecia. Em vão, com óleos, essências De aroma arábico e forte, Se disputaram à morte Minhas letais pestilências. Húmido, em nardo, eu jazia; Mas o fedor que exalava, Mais que da carne, alastrava Da alma que apodrecia. Mãos, num vagar rancoroso, Vingadas, porque adularam, Em brocado entalharam Meu corpo inchado e escabroso. Por fim, fantoche mitrado, Entre cem círios a arder - Pudesse um deles também ser E consumir-me queimado! - Entrei na nave deserta Que do pórtico parecia Que a todos nos engolia, Fauce esfaimada e aberta. Oh! Com que náusea os ouvi Salmodiar-me; e exausto De tão falsíssimo fausto, Com terror me apercebi De que o cansaço devia Ter-se extinguido também Comigo, não ir além Da vida que em mim havia. Mas não! Meus cinco sentidos Desenfreados agora Os tinha mais do que outrora, Buscando os vícios preferidos! Incapaz de movimento, Eu, cego, impotente e mudo, Dentro de mim, via tudo Num pavoroso tormento! Só a solidão me deixaram Na cava nave nocturna E a presença taciturna Dos que a meu soldo mataram, Dos que a meu lado morreram Sem confissão, emboscados, Dos que ao meu oiro amarrados Porque os perdi se perderam! O tempo, enorme, passou. Mais que um vitral se partiu, Mais de que um arco ruiu E eu vivo e morto ainda estou. Quando o tempo ao fim desbaste Minhas puídas feições, Talvez as minhas acções Também o tempo as desgaste. A sombra silenciosa Da cruz, que alonga ao sol posto Sua brandura ao meu rosto, Talvez parando piedosa Sobre os meus olhos, talvez Dorida do meu quebranto, Amoleça em meigo pranto Tanta maciça altivez. Talvez os vermes, por dó, Os alicerces minando, Altos tectos derrubando, Me restituam ao pó. Talvez também - maldição! - Em cada grão inda viva A minha insónia, cativa De um remorso sem perdão! Não creias, pois, viajante No meu sossego aparente; Sê calmo, casto e constante, Sê sóbrio, humano e paciente; Sê tudo quanto eu não sendo, Porque o não fui, Deus legou, À pedra inerme jazendo A sensação de quem sou.
I Esmorece a luz Sobre o tablado. Amolecido E vencido, D. Bailador-Bailarino Devagar Morre, também... E o que resta da angústia do baile É o corpo morto e tombado Que lutou com a própria alma. Lesta, desprende-se a cortina Sobre a cruel pantomina. Um silêncio geral... Nem uma fala !... No entanto, uma emoção sem par Penetra os corações E cada olhar Revive as derradeiras comoções Da dança singular. Súbito, um frenesi Percorre a multidão paralisada. Uma flama irrompeu, Deixou a sala incendiada, E cada um reclama E chama E quer, inquisidor, Que à ribalta apareça D. Bailarino-Bailador ! D. Bailador-Bailarino ! D. Bailarino-Bailador ! II Emocionante, A pantomina Termina. Alado e áptero impulso Atrai-lhe o corpo delgado Para o reino da vertigem, Pondo susto e maravilha Em cada olhar deslumbrado. Após Com lento aprumo, sem pressa, Regressa, Pisa de novo o tablado E dança. Com segurança e majestade dança, Como se no ar em que dança Houvesse mais densidade, De um verde vagar aquático. Quem dirá que não tem asas D. Bailarino-Bailador ? Embalsamado - de fixo ! -, Mumificado - de quieto ! -, D. Bailarino Comenta, do violino, Gelado choro sem fim. Mas no fim, Com manso e dormente jeito, As duas mãos voadoras Cruza, pendentes, no peito. Sob as pálpebras cerradas É diferente o rosto moço; Tomba-lhe então a cabeça, Como se ao cabo e aos poucos Se derretesse o pescoço. Longínqua serenidade Como que dimana e escorre Da melancolia que morre, Toda horizonte e além. III Ele é fauno, é flora amorável, Ele é mito, ele é loiro, ele é palma, É palavra carnal duma alma, É o fixo, é o instável. Ele é tarde de cinzas, é poente fantástico, Ele é lívido Gólgota, paisagem lunar, Ele é triste balaústre cismático Em marmórea varanda, ao luar. Ele é fútil ficção, Pierrot Suspirante, cintilante Arlequim, Ele é tal artifício, mas tão gracioso Que, se vivo inda fora, gostoso O pintara Watteau. Ele é renda, ele é asa, ele é pluma E transcende o autor de que dança um adágio; Mas também é tormenta, também é naufrágio; É visão de afogado trazido na espuma; Ele é amoroso de murcha coragem Sorvendo, de longe, seus longos martírios; Ele é D. Juan do sangue selvagem A cuja passagem fenecem os lírios. Ele é confluência das dúvidas todas Hamleticamente dançando dilemas Da jovem de Atenas, em véspera de bodas, Tecendo, com rosas, fragrantes diademas. Ele é fauno, mais fauno que o fauno Ressuscitado Por santo milagre de S. Debussy ! ... E logo, converso, em outro bailado, Pureza sem mancha seu gesto sorri. Ele é sopro, ele é fumo na aragem, Ele é fluido, ele é nimbo, é paisagem No leito dormente de um rio Em sonâmbulo estio. Ele é aço, ele é mola, ele é pincho, Ele é som de metal, ele é guincho, Explosão e tambor, O Bailador-Bailarino ! O Bailarino-Bailador ! IV Ah ! bailador ! Ah ! bailarino ! A tua arte durou Os olhos de quem te viu... E tudo o mais é rescaldo Do fogo que se extinguiu.
.......................
Ninguém teve Mais efémero brilho Nem triunfo mais breve... Cabriola de chama Na lenha que arde E se extingue... Relevos de nimbos, Fantásticas formas Fugazes, da tarde... Corisco maluco !...
.......................
Ah ! florilégio do gesto, Carne da música, Antologia da atitude !... V Quando, entre as campas das puídas flores, Que um outono qualquer arrebatou A lascivos amores, Passa, alta noite, um silvo aflito a cio, E dos burgueses mausoléus, o frio, a prumo, orgulho vão, Escorre, inda vivo, uma gordura à Lua, Do Bailarino, desconjuntada, A ossada Acorda para o tormento De não ter movimento... IV Que fantástica cena, a Eternidade !... Vejo-te a dançar, Bailarino, Vejo-te a dançar Sem tréguas nem esperanças À busca dum corpo Não se incorpora a tua suavidade... Busca-se um peso para a queda do fim...
.......................
Sem corpo, a Eternidade é bem cruel, Se Deus nos deu uma alma que é pretexto, Um mero cordel Para o gesto...
Seria frade, é certo. Mas que doce e estável céu aberto Então, o meu destino ! Seguiria, talvez, Tomás d'Aquino E outros claros sóis Da teologia. E por fecundo amor à luz do dia, Feroz, destroçaria O pérfido Averrois Recalcitrante, Com trinta silogismos de lógica esmagante, Excedendo, porventura, o próprio Frade Angélico No meu santo furor aristotélico ! E na maturidade, Atingida aquela obesidade Que deve ter um frade, Dotaria as conclusões a minha inteligência Sobre Potência e Acto Ao mundo estupefacto De tal clarividência. Após, o irmão copista, Um precioso artista, Paciente por excelência, Copiaria o muito que eu pensava No bárbaro latim da decadência, Iluminando as frases ressequidas Com galantes maiúsculas refloridas. Em Pádua, subiria a ser reitor, Por virtude e fulgor Da minha erudição; E, firme desde início, Recusaria o sólio pontifício No transe aflitivo de Avinhão. Já então, Por antecipação, Nas forjas legendárias Onde o bisonho Vulcano temperou As cóleras incendiárias Do Júpiter Tonante, Um bando rutilante, Ingénuo e palrador, De serafins, cantando, Estaria burilando, Com gemas siderais E trémulos orvalhos matinais, O fulvo resplendor Da minha santidade. Entre santos e santas veneráveis, Nos paços inefáveis Da bem-aventurança, Como um rio que transborda o leito, A nova correria, sem tardança, De haver um novo eleito; E a excelsa e moderada academia Entre si disputaria A rara regalia Da minha vizinhança. Teimoso e resistente como um cedro, Que fortes argumentos não teria O indomável Pedro ? E Paulo, o das epístolas ardentes ? E a trigueira Maria de Magdala, De que os olhos, carvões incandescentes, São, mais que a muda boca, eloquentes ? Mas um Santo que fora em vida grego, E, dizem, muito lido em história antiga, Prudente, acalmaria os imprudentes, Lembrando que fora por intrigas, Por miseráveis brigas, Que outrora tivera o seu ocaso A glória dos Deuses no Parnaso.
.......................
Paris, Burgo cinzento, Da cor do pensamento, Vestiria de luto Um hermético céu de nuvens negras, Sombrio e triunfal, Por esse velho astuto, Malabarista arguto Das mil e uma regras Da lógica formal. E esse velho, Por quem chorava o meigo céu da França, De olhar agudo, como o dum judeu, Cortante, como o ferro duma lança, Esse velho, esse velho era eu.
.......................
Da Gália - A Doutora, A muito sabedora - Partiria, entretanto, Um certo santo Esfomeado de azul, De rumo para a Itália.
.......................
Combatera uma bula, Fora reitor em Pádua, Prelado de Mogúncia (E Papa não fora Por um triz...) E saía de Paris Em lazarenta mula, Viúvo de ambições E noivo da renúncia.
.......................
O céu dessa manhã gloriosa Dir-se-ia, de ambarino e pouco azul, Cavado numa pétala de rosa... Já então o degelo abraçava No seu harém de cristal O corpo nu das montanhas - Hirtas, distantes, Impossuíveis e místicas amantes Raptadas a um convento das Espanhas. E ao longo das cogulas concubinas, Violadas, sem esperanças, A água deslisava como um choro, Tombava, toda a desfazer-se em tranças... Pensativas, Em voos circulares de procissão Dum estranho ritual, As nuvens punham, nos cumes das cativas, Grinaldas de Irreal.
.......................
Ora o céu não é um pálio Para a passagem de quem Vai para o trono da morte Desde as entranhas da mãe, Nem o mundo coroação, Nem as vidas que pisamos Poeira erguida, ao de leve, Pelo manto que envergamos, Nem Deus o erro prudente, Degrau de altura do trono, Osso de esp'rança atirado À boca dos cães sem dono. Nós somos mais, porque vamos Lutando contra o capricho Que fez de nós uma estrela Num firmamento de lixo.
.......................
Sobre um declive juncado De podres pássaros mortos, Desço os atalhos que, tortos, Sobem a Deus. E cego aos voos parados Que o mesmo frémito impele E um só cansaço frustrou, Lúcido e louco, prossigo P'ra exaltação e castigo De quem não sou.
.......................
E um terror satânico e antigo, O que nasceu comigo À hora em que acordei Para a miséria da minha condição, Ergue-se todo, Num garrote de lodo E solidão...
.......................
No horto das consciências desfolharam-se os deuses. Vastos devastadores - A Paixão e a Dúvida - Disputaram às raízes Os pedúnculos airosos, E um longo estio de indiferença Evaporou nas seivas As ilusões piedosas. Já a morte não abre Para encruzilhada Dos dois caminhos eternos.
.......................
Mais do que mitos infernais ou laços Dum sobre-humano engenho aterrador, Proíbem-me os umbrais, cujo transpor É todo o fim dos meus perdidos passos.
.......................
Porquê ? Porque hei-de ver apenas isto ? Eu que sou autêntico, que existo Sem símbolos, real, naturalmente ?
.......................
Deuses, inferno e céu, foi tudo em vão; Mito após mito, ergueu-se o ígneo horror Do Eterno sem Deus, e com ele o esplendor... Ao cabo, os homens são o que homens são.
Mínimo sou, Mas quando ao Nada empresto A minha elementar realidade, O Nada é só o resto.
Nota: Deste poema existe também uma versão com três versos:
Mínimo sou, mas quando ao Nada empresto
A minha elementar realidade,
O Nada é só o resto.