
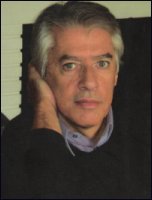
João de Melo nasceu na ilha de São Miguel, Açores, em 1949 e aí viveu até concluir a instrução primária. Mudou-se para Portugal continental com 10 anos de idade, a fim de prosseguir estudos. Tem residência em Lisboa desde 1967. Mobilizado para Angola em 1971, esteve vinte e sete meses na guerra colonial como graduado dos serviços militares de saúde, experiência que viria a determinar parte da sua obra literária. Licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, foi professor de línguas e literatura no ensino secundário e de escrita criativa e teoria literária numa universidade. É conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Madrid desde 2001, a convite do governo português.
É sobretudo um escritor de romances e contos, mas publicou também livros de ensaio e crítica literária, antologias, poesia, crónica e literatura de viagem. Foram-lhe atribuídos os seguintes prémios literários: "Prémio Dinis da Luz" (ao romance O Meu Mundo não é deste Reino) e "Prémio Associação Cultural A Balada" (aos contos de Entre Pássaro e Anjo). Gente Feliz com Lágrimas, o seu romance mais conhecido, foi adaptado ao teatro, à televisão e ao cinema e obteve as seguintes distinções: "Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores" (o mais importante prémio de ficção dado a uma obra em Portugal), "Prémio Eça de Queirós da Cidade de Lisboa", "Prémio Cristóbal Colón das Cidades Capitais Ibero-Americanas", "Prémio Fernando Namora" e "Prémio Antena 1 de Literatura" para o melhor livro do ano. Alguns dos seus romances, contos, antologias e crónicas estão traduzidos numa dezena de países: Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Áustria, Roménia e Bulgária.
Histórias da Resistência (contos, 1975), A Memória de Ver Matar e Morrer (romance, 1977), Antologia Panorâmica do Conto Açoriano (org., 1978), A Produção Literária Açoriana nos Últimos 10 Anos (ensaio, 1980), Navegação da Terra (poesia, 1980), Toda e Qualquer Escrita (ensaios, 1982), Há ou não uma Literatura Açoriana? (ensaio, 1982), O Meu Mundo não é deste Reino (romance, 1983, traduzido nos Estados Unidos e em Espanha), Autópsia de um Mar de Ruínas (romance, 1984, traduzido em Itália e Espanha), Entre Pássaro e Anjo (contos, 1987), Os Anos da Guerra (antologia em 2 volumes, 1988), Gente Feliz com Lágrimas (romance, 1988, traduzido em Espanha, França, Holanda, Itália, Roménia e Bulgária), As Manhãs Rosadas (conto, 1991), Crónica do Princípio e da Água (conto, 1991), Bem-Aventuranças (contos, 1992), Dicionário de Paixões (crónicas, 1994), O Homem Suspenso (romance, 1996), Açores, O Segredo das Ilhas (2000, viagens), Antologia do Conto Português (2002, traduzida em Espanha e em Itália) As Coisas da Alma (conto, 2003), O Mar de Madrid (romance, 2006). De próxima aparição: A Nuvem no Olhar (antologia pessoal) e O Vinho (com desenhos de Paula Rego). Uma antologia de dezoito dos seus contos foi publicada em Espanha com o título de Crónica del principio y del agua y otros relatos (2005).
Capítulo Primeiro
UM QUALQUER DE NÓS
___1___
Com excepção dos nomes e das cores, que se haviam delido no tempo, seriam apenas os barcos – os mesmos desse dia feliz em que papá decidira levá-la a vê-los de perto pela primeira vez. Porque lá estavam ainda, emborcados por cima do convés, os mesmos escaleres cobertos pelas lonas. Estavam as torres, as vigias redondas como olhos de peixe e as mesmas bóias ressequidas, presas dos ganchos. Quando largaram da doca – e o focinho cortante das proas rasgou o pano azul das águas atlânticas, rumo a Lisboa – havia também a mesma chuva ácida do princípio da noite. Além disso, dera-se a chegada das mesmíssimas vacas ao cais de embarque, sendo elas destinadas aos matadouros continentais. E o pranto da muita gente que ali ficou a agitar lencinhos de adeus fora-se logo convertendo num uivo, o qual acabou por confundir-se com o rumor do vento a alto mar.
Depois um e outro viram a Ilha ir fenecendo na distância das luzes enevoadas e extinguir-se aos poucos, submersa pelos véus de cinza que se desprendiam das nuvens. À medida que os rolos de espuma se distendiam à ré, num risco que espalmava e tornava liso aquele globo saltitante, a cordilheira vulcânica ia-se lentamente afundando ao longe. Do lado de cá do vento, e da electricidade que metaliza e faz correr a noite marítima, a última visão da Ilha é mesmo essa cabeça de égua aflita, agitando-se na crista da serra a que chamam Pico da Vara. Sabe-se que naufraga e que o faz num suspiro altivo e superior: as orelhas, de súbito imóveis, mergulham a pique no fo dessa irresistível lâmina oceânica...
E agora que os anos confundem a ordem e o rigor das emoções dessa viagem para Lisboa, o difícil é reconstituir os nomes, o perfil, a sombra dessas formas escuras, que eram os barcos de então. Mesmo dos que deram lugar aos majestosos paquetes de cruzeiro, não sobra senão um pormenor obscuro. Nuno e Amélia aludem às bandeiras bordadas com símbolos náuticos e aos enormes mastros, de cujas hastes se esticava um cordame de aço amarrado na gávea. Maria Amélia recorda sobretudo as chaminés azuis e amarelas, ao contrário do irmão. Recorda o som das caldeiras e o sal dos corrimãos pegajosos que bordejavam os muros do convés, e pouco mais. Dos tombadilhos oscilantes, não retém mais do que uma lembrança difusa, ainda e sempre ensombrada pelos malefícios do enjoo. Mas azuis, amarelas ou dum ocre pouco nítido e já muito mordido pela ferrugem, de pouco lhe importam as cores. Limita-se a descrevê-los sem paixão. Não quer aliás recuperar o tempo inútil, nem amargurar a memória que possa ter desses ou de todos os outros barcos. Nutre por eles um misto de ternura e pavor. Contudo, não esquece o aspecto desses castelos vivos mas em ruínas – com varandins de corda, patamares suspensos e enormes âncoras esquecidas junto aos pequenos motores de bordo. Toda a memória lhe vem das janelas em guilhotina da 1ª Classe, para onde tantas vezes olhou em vão, na esperança de que viessem socorrê-la. As irmãzinhas haviam-na abandonado num camarote sem ar e sem vigias: uma luz mortuária por cima da cabeça, sacos de plástico para o enjoo arrumados numa bolsinha fatídica, o beliche estreito e a mistura dos cheiros que só existem nos barcos – salitre, tintas quentes e o amoníaco entorpecente das latrinas muito próximas. Dos porrões, chegavam-lhe aos ouvidos atordoados o choro das vacas e das cabras, os urros dos vómitos e o lamento contínuo de muitas outras mulheres. Depois entrara nela o zumbido que o mar transmite às paredes trémulas dos barcos. E como um sismo sem princípio nem fim, as tempestades atlânticas levantavam no ar e depois deixavam cair aquele baú entre vagalhões cruzados. O mar fazia-o com a mesma facilidade com que outrora um qualquer de nós era tomado em peso pelo vento e voava: não sendo pássaro, transformava-se num serzinho alado, cego pela poeira, e aterrava no lodo das quebradas que sempre haviam cortado os caminhos da infância. No momento seguinte, mares convulsos voltavam a erguer e a largar aquela segunda arca bíblica. Abriam-se medonhas crateras e o mar fendia-se para receber a quilha: uma indescritível chapada na água ensurdecia a noite de pedra – e nunca Deus estivera tão distante como nos dias dessa solidão infinita. A visão da cidade do Funchal, numa noite de tréguas a meio da baía, com o presépio das suas casas ao cimo das falésias, deixou-a semimorta numa cadeira de encosto de alguém que fora a terra e a deixara vaga no convés. De manhã, largaram dali com levante. Viu-se de novo enrolada no beliche, com a cabeça entre os joelhos, e quis Deus que, ao quinto dia dessa primeira e última morte no mar, viesse finalmente alguém dizer-lhe que a luminosa, magnífica cidade de Lisboa esperava os náufragos e as suas almas mortas. Só então conseguiu ressuscitar.
Nuno Miguel recorda perfeitamente as letras incrustadas nos cascos negríssimos e também pintadas no dorso das grandes chaminés. Recorda-se de se ter interrogado acerca dessas legendas, parecendo-lhe que já então os nomes dos barcos eram maiores do que eles mesmos e do que a sua próxima experiência do mar – por muito que lhe viessem a custar as cinco futuras viagens entre Lisboa e Ponta Delgada. Em todas as docas jaziam sempre medas de tábuas, montanhas de toros, contentores soldados a chumbo e compridos promontórios de sacas de trigo e açúcar. E via-se sempre um homenzinho sentado no ar, na guarita de cada guindaste, tendo pela frente um painel com alavancas, fechos e botões luminosos. Daí o outro segredo dos barcos: durante horas e horas, estando ele ainda do outro lado da cidade, pudera ouvir a mecânica das roldanas, o deslize cortante das correntes que içavam plataformas e abriam porões, as cremalheiras onde a roda dentada ia produzindo um ruído de ossos triturados.
Sentado com o papá no muro da Avenida Marginal, à espera da hora do embarque, a tarde inacreditavelmente longa desse primeiro Novembro de mar fora sobretudo o pulsar dos ferros na distância, a deslocação das engrenagens perras, a bordo, e a voz dele: nunca tivera jeito para a ternura, por isso mantinha o mesmo tom imperativo para lhe pedir que comesse alguma coisa e parasse de soluçar:
– Psst, ó pequeno! Não se chora, homem. E assoa-me esse nariz para o chão!
Ele próprio gostaria de saber como se chorava, para então poder abraçar aquele pequeno filho, subitamente aterrorizado ante a proximidade do seu barco. Não saberia fazê-lo sem parecer ridículo ou diferente do que sempre fora perante os filhos. Nuno registara no nervo mais sensível da alma a decisão do pai, nessa mesma manhã. Quando dele fora despedir-se à arribana, papá ficara um momento a olhá-lo de cima para baixo. A cabeça inclinara-se-lhe um pouco, até ficar oblíqua, e Nuno viu como os lábios se crispavam e os olhos se tornavam quase doces. Ia decerto abraçá-lo fortemente contra o peito, sem uma palavra, ou então limitar-se-ia a repetir a fórmula de dar a bênção – quando de súbito papá endireitou a cabeça, pegou-lhe pela mão e trouxe-o até à cozinha. Aí, enfrentou os olhos chorosos de mamã, recebeu o clamor das lágrimas de toda a família e ordenou:
– Preparem-me as botas de levar à missa, a jaqueta e umas calças lavadas. Vou-me a levar o pequeno ao embarque, não vá ele perder-se lá pela Cidade.
Além disso, acrescentou Amélia, ficava-se com a impressão de que os barcos não eram apenas máquinas, mas seres vivos, vorazes, que saciavam uma fome em tudo semelhante à das pragas de antigamente. A garra das gruas de aço fechava-se sobre troncos, caixotes, gradeados com ananases e bananas e tudo isso içava para bordo. Lá em baixo, homens minúsculos refugiavam-se sob os falsos alpendres corridos dos porões. Desengatavam o gancho do guindaste, acomodavam a carga ao fundo daquele estômago de cetáceo. As caras untadas pelo óleo metalúrgico dos barcos, as suas vozes roucas e sobretudo os olhos intensamente azuis que sobressaíam dos rostos mascarrados pertenciam a gente flagelada. Adivinhava-se-lhes a pobreza ossuda e tristonha, sepultada naqueles túmulos de vivos...
Nessa altura, já a multidão, de pé no cais, começara a acenar na direcção do barco os seus lencinhos húmidos de choro. Alguém gritava um último recado a um senhor que se debruçava do convés, com a mão atrás da orelha, na tentativa vã de o captar lá em cima. Quem assim berrava fazia-o em desespero, fechando as mãos à volta da boca. Mas como o vento continuasse a arrastar aquela mensagem para muito longe do seu destino, o outro optou por exprimir-se por mímica: que desculpasse, viera atrasado, queria apenas abraçá-lo e desejar-lhe boa viagem...
Mas antes disso, interrompeu Nuno, há a história do embarque dos animais. Ao serem içados, os touros urravam, em pânico, abrindo muito as unhas e pondo-se a nadar no ar, por cima das nossas cabeças. Nunca a vida lhe mostrara uma tão perfeita imagem do terror, sobre o abismo: os bois esticavam as patas, ameaçavam alar-se e sacudiam o corpo. E os olhos, já de si tão globulosos, luziam dum volume metálico, ainda mais frios do que dantes. As cabras e as ovelhas enovelavam-se, como rolos ou bolas, por dentro das redes de arame, e os corpos deixavam de ser quilhas: embrulhavam-se nos balidos do medo, bambos, a tropeçar nas próprias patas e já atordoados pelo cheiro dos porões. Quanto aos cavalos, voltavam sobre nós o mesmo olhar maligno e sanguinário, se bem que estarrecido de morte. Tentavam empinar-se e desferiam coices que produziam lume nas chapas. De forma que, postado no convés, foi-se ele próprio chegando pouco a pouco à sensação daquela morte marítima, quando deu por si no arrependimento e a desejar o regresso à outra paz dos bois. A voz zangada do pai e o céu baixo de todos os rosarenses estavam então do outro lado das emoções. Sobretudo, recorda, tornara-se súbita e insuportável a saudade dos olhos azuis de mamã e dos irmãos mais novos. O cérebro enchera-se-lhe desse eco de ternura e repetia os prantos, as frases e a visão da despedida dessa manhã. Nunca mereceu a presença dela ou dos seus irmãos num cais de embarque: apenas o papá o acompanhava aos barcos e somente a sua voz se repetira de ano para ano:
– Psst, ó pequeno! Não se chora, homem!
Ao cabo das horas, quando já toda a gente se apressava e corria ao longo do cais, e o barco, movendo-se, apitava, Amélia foi cercada pelos prantos, pelo adeus dos lenços e pelo clamor dos nomes que cruzavam o ar. Jamais lhe apeteceu chorar, determinada a deixar para trás um passado sem história e a esquecer-se dele sem a menor sombra de sofrimento. Com Nuno, aconteceu o impossível: chorava e sorria na direcção do pai, feliz e infeliz, sentindo-se só e porém apertado por aquele convés de gente que se apoiava nos seus ombros e o empurrava de encontro à amurada. Tomara então a profunda consciência do seus dez anos de idade, ao ver-se, miúdo e assustado e desprotegido, no meio de tantos estranhos. Ia à procura da sua estrela, mas não lhe tinham ensinado o céu onde devia encontrá-la.
– Como será Lisboa? – pensou então. – Quem me esperará em Lisboa, e que destino me darão eles nessa cidade desconhecida e de repente não desejada?
Lá em baixo, no cais, vendo o Lima afastar-se, papá abrira muito as pernas e cruzara os braços sobre o peito. Rígido como uma estátua, disse, e com o chapéu afundado para a nuca, por causa do vento. O corpo do pai ficou para sempre assim, um pouco torcido e aparentemente indiferente ao destino do filho. Difícil até dizer se os olhos se moviam à procura dele, porquanto o perdera de vista entre a multidão. Nuno ficou espiando de longe esse rosto lívido e deu curso a sentimentos contraditórios: ao libertar-se daquele homem, percorria-o uma discreta sensação de alívio. Mas sofria a sua inevitável atracção, à medida que a distância aumentava entre ambos. Hoje, do lado de cá da sua morte, perduram a ausência desse corpo com as pernas excessivamente abertas sobre um cais de partida, o perdão sem remédio das culpas recíprocas e a absolvição da morte pela morte de tudo. Depois, no alto mar, quando lhe veio o enjoo e se pôs a chorar, desejou apenas poder estender os braços e pedir-lhe que o salvasse, levando-o dali para a terra da infância grandiosa e eterna de todos os homens.
Enquanto Nuno viajava ao cuidado duma senhora muito branca e de sorriso doce, mas profundamente constipada, cujo nome se perdeu da sua memória, Amélia pressentiu logo o abandono a que fora votada. Nuno seria entregue à primeira sotaina de Lisboa. Ela resignar-se-ia a olhar para as janelas de guilhotina da 1ª Classe, na esperança de que as irmãzinhas se dignassem acenar-lhe um lenço de náufragos na direcção dos porões.
– Pior do que a injustiça, só a imoralidade, senhor. E então vinda de quem se preocupava tanto com a caridadezinha...
A experiência havia de provar-lhe que estava já vivendo a história infinita dos seus logros. Limitou-se pois a acreditar que as irmãzinhas não a abandonariam naquele camarote sórdido, onde o ar era irrespirável e sobre o qual pairavam o pranto de outras mulheres solitárias, o vómito contínuo dos pobres e o bramir das reses doentes. Talvez existissem afinal razões desconhecidas, capazes de aplicar o princípio e o fim de todas as coisas criadas por Deus. Imaginou contudo as freiras instaladas e inacessíveis nos luxuosos salões, devorando chá com biscoitos, bordando napperons para altares de capelas remotas e falando sempre da bem-aventurança dos pobres e do aborrecido que era ter viajado tanto para afinal levarem para Deus uma única e duvidosa vocação religiosa...
De sorte, senhor, que daqui nos partimos ambos em demanda do destino: levados, em diferentes anos e meses, no mesmo navio-cargueiro, nos seus cheiros côncavos, resinosos e inseguros. Levados, repare bem, pelo chamamento da longínqua e difícil voz de Deus – e com tal sofrimento de mares e seus enjoos que ainda hoje nos minguam as palavras com que houvéssemos de os descrever. Todo esse tempo passámos sofrendo das mais atrozes solidões atlânticas, cuidando mesmo de já não sabermos distinguir a noite do dia, ou entre a luz da lua e as simples lâmpadas de néon que nos faziam verdes os rostos lá no fundo daquele galeão. A meio da viagem, principiaram de chegar-se a nós os marujos. E vendo-nos em tão funda lástima, trataram de nos encorajar com um pouco de comida, a qual, só mesmo de a vermos ou cheirarmos, dava-nos o estômago um tal aperto que era em tudo um grande dó de se ver. A pouca água que nos consentisse a vontade de tragar, logo a devolvíamos às tinas e aos sacos para o enjoo, e sempre com grande nojo do gosto azedo que a própria saliva arrancava de dentro de nós.
Aos nossos ouvidos chegavam então as poucas vozes dos vivos que diriam serem as inchas, lá por cima dos mastros, tão grandes e perigosas que galgavam o navio dum lado ao outro, como se fora o caso de termos sido embarcados numa simples chata ou em obra de menor engenho ainda. Outras vozes ousavam anunciar-nos as piores maldições, dando como certo que só Bárbara, a santa das tempestades, teria a virtude de cuidar desse extremo das nossas vidas. Opiniões mais conformes com a santa religião, é certo, porquanto outras, livres dos males do enjoo, pareciam entregar-se à festa e a um contínuo riso de escárnio sobre as violências e os medos do mar...
Em que estado chegaram, um e outro, a Lisboa – não me é muito possível dizê-lo a rigor. Ao fim de cinco dias de mar, quase sem alimento, com o abominável cheiro dos barcos metido no estômago e nos pulmões, quem sabe mesmo se dentro das veias, o sangue coalhara-se-lhes no corpo. Precisaram ambos de ser amparados pelas escadas de bordo acima. E quando no vidro duma porta, já no convés, descobriram um arremedo de espelho e nele se miraram de corpo inteiro, viram a palidez, a assustada fealdade dos náufragos, as veias azuis das mãos, tão grossas como cordas a boiar nas escamas da pele – e quiseram pôr-se a chorar.
– Os meus olhos, disse Nuno, estavam cercados de rodelas escuras; o volume dos ossos tornara-se-me ainda mais proeminente. A morte do mar principiara em mim uma obra de fada transparente e porosa: no tremor dos dedos, no tom arroxeado das mucosas da boca, nas primeiras flores da infância que murchavam no meu olhar.
– Cadáveres debruçados do convés, sobre o mar de Lisboa, disse Amélia recorrendo de novo ao fulgor retórico das imagens sobre o passado.
Tinha os olhos ulcerados pela ausência de luz. Mas pôde, ainda assim, distinguir ao longe uma massa dourada que levedava por cima do horizonte. Uma espécie de fermento, como o que mamã antigamente usava nos grandes alguidares de barro, sempre que ia cozer o folar da Páscoa. Assim via ela aquela massa crescer, encher-se aos poucos de luz, tornar-se branca e luminosa como só o magnífico sol português desse dia.
Depois cresceram também as torres de Lisboa. Formas houve que ganharam o desenho das grandes casas imperiais à beira do Tejo. As ruas e as estradas puseram-se de repente nítidas, mais numerosas, irrigadas pelo movimento da manhã. Podiam ambos jurar que, à visão das primeiras praças da Baixa, principiaram a ouvir os sons dum outro mar todavia um mar de cidade, sem água, sem o enjoo e com outra forma diferente de flutuar. Lisboa era de súbito o grande anfiteatro das casas rosadas, com o Castelo de S. Jorge na crista dum galo chamado Alfama, as casinhas quadradas dos ricos que já então viviam no Bairro do Restelo e a enorme sombra de pedra em que se constituíra o Mosteiro dos Jerónimos... Do lado de lá do estuário, perdida na neblina, uma Almada faminta espiava por entre morros, chaminés de fábricas e depósitos de gasóleo – afinal tão árabe como as pobres aldeias dos povos que viviam de rosto voltado para o Sul. Viram também as inumeráveis, altivas e silenciosas torres das igrejas de Lisboa.
– Apenas torres, disse Amélia, pois serviam só para suportar o peso dos sinos e a memória da minha passagem por esse tempo acima. Impressionava sobretudo o silêncio da cidade, não sei se por os cemitérios serem tão brancos, se por causa dos plátanos que principiavam a oxidar.
Vira as casas com fuligem à beira das docas, e relógios tristonhos, parados nas suas fachadas, talvez não servissem para assinalar as horas do tempo. Não existia a grande ponte vermelha entre Alcântara e Almada: por isso nada havia a unir esses dois países portugueses separados por um rio. E também não era certo que os suicídios dos domingos da ponte pudessem estar acontecendo então por afogamento, de cima dos pequenos barcos que continuamente vogavam entre Cacilhas e o Cais das Colunas.
Aportaram a Lisboa, vindos dos Açores, para seguirem a estrada que dizem levar à difícil graça de Deus. Fugidos e flagelados como os emigrantes continentais que chegavam à Gare de Austerlitz e inundavam Paris com os seus cestos de vime, os sacos de pano contendo as misérias preciosas dum país, e depois choravam e limpavam os olhos às gorras negras ou aos lenços dessa indefinível, terrível palavra «saudade». Chegavam a Lisboa e eram também emigrantes: Amélia era duma palidez suplicante, tinha dezasseis anos e sonhava já poder vir um dia a cursar a enfermagem. Enquanto não cursasse a enfermagem, levaria o destino das irmãzinhas: ia viver esse sonho fechado por dentro dum ovo, crescer nele e depois quebrar-lhe a casca e as membranas que a separavam da transparência do mundo.
– Foi sem dúvida a maior alegria da minha vida, chegar a Lisboa, disse ela. Apesar de chover torrencialmente, o Sol iluminava a chuva e a chuva enchera-se duma coloração azul e irreal, como tudo o que estava a acontecer-me. Encantou-me saber-me ainda mais portuguesa do outro lado daquele mar, longe da humidade, do céu baixo dos Açores, do tempo que havia parado e envenenado a minha vida, e longe da maldição da minha infância na Ilha. Gostei logo, e de paixão, desse firmamento europeu, da sua luminosidade alta e vertical. Gostei tanto de Lisboa, daquele polvo azul sobre as colinas, das ruas planas que vão num grande círculo, desde o fim das docas até à baía de Cascais... Comecei aí a organizar dentro de mim todos os motivos que me levaram a gostar de estar viva, a ser mulher de novo, a recomeçar os meus dias a partir desse segundo nascimento para o mundo...
– Além disso, precisou Nuno, Lisboa pareceu-me logo a Cidade dos domingos, mesmo daqueles em que, pela vida fora, vim a conhecer nela as angústias dos poetas. Quando aqui cheguei, havia em Alcântara um homem de óculos escuros e dedos cabeludos que me sorriu de modo civilizado e me disse vir em nome de Deus...
Perfeitamente natural numa cidade com tantas igrejas, com anjos de pedra, eternos e imobilizados, esculpidos nos seus nichos aéreos, ao cimo dos edifícios dos Ministérios, na Praça do Comércio: viam-se os arcos por caiar, a estátua ao centro com o cavalo do príncipe esticando a pata dianteira na direcção de Marrocos. Vira tudo isso em Roma, onde aliás nunca estive, e em Madrid e em Paris, e nas cidadezinhas gregas à beira do Mediterrâneo, o mundo que eu começava a inventar para a minha futura existência. Só quando o homem de óculos escuros se chegou a mim e me disse ter o nome de Deus despertei para a realidade, lembrando-me de que o meu destino não era Lisboa, e sim o seminário. Viera a mando do papá, com ordem expressa para me tornar padre depressa, regressar aos Açores e ir depois dizer aos náufragos que também eu fora baptizado com o nome de Deus...
– Logo ao atracar em Alcântara, vi toda a gente vestida e calçada como só nos domingos dos Açores.
Gente calçada (ao contrário dos homens de pés descalços da Ilha), de gravata, com o andar gingão da outra espécie de vertebrados que eu não chegara a conhecer na minha terra. Não sei se interiorizei em acesso essa primeira viagem ao centro do mundo, ou se me projectei todo nela: estava finalmente longe duma infância descalça, fria e aflita, com o pescoço apertado pela primeira gravata, e não tinha razões para recordar o tempo bucólico que morria dentro de mim. Adorei tudo: os anúncios luminosos, os comboios esbeltos da Linha do Estoril, o cheiro discreto a alfazema do táxi em que o Senhor Deus me enfiou e mesmo o ruído daquele mar muito sólido, de pedra, povoado de buzinas, do marulhar dos «eléctricos» nas calhas dos carris. Além do mais, nem sequer chovia, ao contrário do que aconteceu à chegada da minha irmã: um sol fosforescente, o céu morno de Novembro, lavado e sem nuvens. Era eufórica a sensação de estar despertando dos pesadelos do enjoo marítimo, de estar chegando à imensa foz do rio de todos os rios de Portugal, que era também o destino da minha geração. Ao subir o Tejo, experimentei mesmo o prazer de estar de volta aos lugares e nomes dos livros da escola – e à memória e à elementar noção das páginas decoradas por mim nos compêndios de História. A razão de ser dos rios, dos castelos e das torres só se completava na visão das pedras, da mesma forma que só as raízes explicam as árvores e os caminhos-de-ferro nos explicam os comboios. Desaguava afinal dum mundo teórico, sem existência nos Açores, aprendido nos mapas e nos livros de Geografia. Vinha com os ouvidos cheios de datas, nomes de reis estranhos, afluentes de rios, vias férreas e sistemas montanhosos (mesetas, planaltos, grandes serras) dum país sem realidade. Entrava nele com a ciência rosada dessa infância irreal, ia ver-lhe o dente, como se faz ao cavalo, e aprender-lhe o corpo, o espírito, o tempo e o vento...
No táxi, compreendi a familiaridade com que os lisboetas tratavam o homem dos óculos escuros. Confundiam-no com o destino. Ao receber ordens para atravessar a Baixa, subir a Avenida da Liberdade, o Marquês, a Fontes Pereira de Melo, a República e o Campo Grande, e só depois cortar na diagonal, em direcção à Casa-Mãe de Benfica, o motorista sorriu-me ao espelho retrovisor, apanhado nessa vã cumplicidade, e disse:
– Perfeitamente, padrezinho. Vamos lá então mostrar Lisboa ao menino.
Subimos a Rua Augusta, passámos a Praça da Figueira e o Senhor Deus pediu ao motorista que parasse um minuto no Rossio.
– Vem ver – disse-me ele – como são magníficos os nossos pombos.
As mulheres que vendiam flores no centro da praça eram ruças, sem beleza, de grandes seios disformes e pernas cheias de varizes – mas sorriram-me de modo impetuoso, talvez porque isso agradava ao Senhor Deus. Uma delas colheu mesmo o melhor dos seus cravos e pôs-mo na lapela do casaco preto que identificava em mim um seminarista. Crianças, velhos e outras mulheres espalhavam milho e miolos de pão, e os pombos desciam do alto da estátua, em voo picado. Pousavam nos braços, nos ombros e na cabeça do padre: ficou um deus coroado por esses frutos azuis, redondos e orgulhosos.
«São os anjos dele» – pensei então, quando o vi voltar na minha direcção um sorriso pérfido e contrariado. «Vai torcer-lhes o pescoço, depená-los, chupar-lhes os ossos (como a mamã fazia nos Açores) – mas continuará sorrindo e dirá que são apenas os anjos de Lisboa.»
Ia ser um desses dóceis e infelizes pombos, mal entrasse os muros do seminário. Teria de pousar-lhe nos ombros e na cabeça, todos os dias e a todas as horas, e beijar-lhe as mãos, e obedecer-lhe em tudo, e ver que essas mãos me apalpariam os ossos e haviam de espremer-me a alma entre os dedos, até esvaziarem o meu corpo de tudo o que fizera de mim um menino açoriano. Seria um pombo, dentro e fora de todos os bandos, de cada vez que me acontecesse atravessar as manhãs, as tardes e as noites e depois extinguir-me à distância, levado pelo vento. Era-me impossível fugir para longe de Deus, como o fizera da minha infância. Atravessei bairros silenciosos e sem nome, de novo dentro do táxi, sentado ao lado do homem de óculos escuros. Não sabia o que me esperava ao longe, nem para onde ia, nem que destino me daria esse rei translúcido que está sempre à chegada dos barcos a Lisboa. Deus pode certamente expulsar-nos da infância. Não porém daquele vento largo, tão leve! que cada um de nós traz dentro de si, depois de ter vivido numa Ilha.
Quanto a mim, disse Amélia, entrei a cambalear pela multidão que se apinhava no cais, logo atrás das irmãzinhas, e senti fecharam-se-me nas costas, uma após outra, as velhas portas da casa, do Rozário e de todas as ilhas. Nunca mais a minha vida ia ser fechada nessa redoma invisível, de onde apenas se viam o mar, as nuvens paradas e a distância infinita. O horizonte de cada um dos meus actos convertia-se numa linha concreta, sobre a qual bastava estender os braços. Agarrar o tempo e apoderar-me dele passava a ser a principal finalidade dos meus dias. Fui recebida pelo sorriso conventual duma freira sardenta que usava uns óculos fumados, de aros finíssimos. Depois de pedir a bênção e beijar a madre e a irmãzinha, abriu-me os braços e estreitou-me a si. Perguntou-me como me chamava, achou graça ao nome, murmurou-o até se habituar a ele e depois exibiu uma saudação que me ia ser repetida durante anos – ao levantar, à hora das refeições, no início e no fim das tarefas do convento e mesmo ao deitar:
– Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, irmã Amélia!
Atónita, fiz que sim com a cabeça, sem atinar com semelhante liturgia, quando a madrezinha decidiu vir em meu socorro: fê-lo com um ar trocista, num sorriso sombrio a que se misturava a primeira censura, e disse par eu dizer:
– Para sempre seja louvado, irmã Teresa de Jesus!
A sardenta Teresa de Jesus abriu então o porta-bagagens, arrumou as malas, pôs-se ao volante dum calhambeque que parecia tossir e engasgar-se nas subidas, e assim fui levada de rua em rua para fora da cidade. Durante o percurso, a sardenta falou sempre, respondeu a to das as perguntas, fez a crónica completa do quotidiano da Congregação, movida por uma energia quase explosiva. Estava longe de pensar que faria dela a única, a maior de todas as minhas amigas e que iria recorrer vezes sem conta à bondosa energia daquele sorriso cúmplice...
Nuno conheceu a viagem nocturna e sem paisagens. Amélia abriu muito os olhos sobre o cloro da manhã e pôs-se de pé num círculo de luz. Recolhida num claustro de convento, sentiu que a atordoavam o pulsar do silêncio, os passos que pousavam nos corredores e um pêndulo de vidro cuja função era absurda: a experiência veio a ensinar-lhe que os relógios, dentro dos conventos, serviam para parar o tempo, não para nele obrarem o futuro...
Nuno Miguel sentiu-se levado ao contrário: o seu espírito saiu das horas diurnas de Lisboa para a noite pesada da província. Atravessou o país na diagonal, em companhia de dois homens sorridentes que durante três horas se esforçaram em vão por entender o seu discurso açoriano. No decorrer dessa noite infinita, ou de todas as que se lhe seguiram, fizeram-lhe dezenas de perguntas inúteis, e ele esforçou-se sempre por a elas responder dum modo claro, martelando bem as sílabas e escolhendo, por simples intuição, o seu melhor vocabulário. Ao mesmo tempo, preocupou-se em evitar o emprego dos sons ossudos, decidindo-se por imitar a pronúncia redonda e as frases proferidas pelos seus interlocutores.
Quando chegaram à aldeia e ele avistou ao longe um casarão iluminado na noite sem estrelas desse tempo, percorreu-o um indefinido terror. A casa era afinal um túmulo em ponto grande. A noite que a rodeava dificilmente deixava de parecer-se com a seda de que são feitos os véus dos defuntos. Apeou-se da furgoneta e teve de ser amparado pelos ombros, porque cambaleava nas trevas. Sono, fadiga e desânimo vinham juntar-se à sua timidez e apô-lo ao ridículo e ao riso dos outros. Daí a pouco, vieram recebê-lo dois padres acinzentados no sorriso que trajavam túnicas cor de pérola. As cabecinhas de pássaro, rapadas à navalha na altura da nuca, tornaram-se irrequietas, lá ao cimo do escapulário e do capuz descaído sobre os ombros. O mundo estava todo do avesso, porque Nuno sempre vira os padres vestidos de negro. Pensava que só essa cor aplicava a importância e a mortalha mundana de todos os padres, o seu tristonho olhar de corvos e até a pequena santidade dos seus ritos.
Também eles se inclinaram para ele e apuraram o ouvido, pedindo-lhe que repetisse e falasse mais alto, a fim de o perceberem. Compreendeu que começavam a acusá-lo de ter chegado com dois meses de atraso. A acusá-lo da sua linguagem, do malote de ripas que o pai fizera e cuja pega de alumínio se partira, e a acusá-lo da primeira e única solidão que os meninos herdaram de mamã. Já com a bagagem arrumada debaixo da cama que lhe havia sido reservada ao canto do dormitório, disseram-lhe para descer. O reitor esperava-o cá em baixo, ao fundo de dois lanços de escadas. Viu-o de pé, entre os bustos dos santos perfilados nas suas peanhas, e receou estar sendo levado à presença dum colosso. Disseram-lhe que devia beijar-lhe a mão, flectir simbolicamente os joelhos, baixar a cabeça e dizer-lhe boa noite. Além da lisura dos tecidos e das polpas de carne que a almofadavam por dentro, impressionou-o logo o tamanho excessivo daquela mão. Ao olhar lá muito para cima, na esperança de lhe ver o rosto, avistou apenas as narinas dum homem ainda jovem, mas da altura do tecto. Os braços findavam nuns ombros grossos e tão salientes como asas de anjo. Mais tarde, quando se tomou vítima daquela força, Nuno havia de pensar que existia uma harmonia perfeita entre a estatura do homem e o poder quase divino da voz, dos passos pesados e da justiça canónica do reitor. Os mesmos braços que fortemente o estreitavam contra si e quase o tomaram em peso seriam afinal os que vezes sem conta, ao longo de anos, o educariam ao bofetão. Despedidas de surpresa e no meio do silêncio, as bofetadas abriam clareiras de corpos derrubados que se espalhavam pelo chão das salas de estudo como corolas de animais abatidos. Força, violência e exaustão, além do castigo de ir rezar durante as horas do recreio, educaram-no para o respeito e para o ódio. Contudo, sempre que dera por si a voar e a cair das cadeiras sob o impulso daquelas mãos, limitara-se a invocar o santo nome de Deus, sabendo que o fazia repetidamente em vão.
No refeitório, uma onda de entusiasmo recebeu-o de mesa em mesa, ao ser apresentado a todos como «o açoriano». Assim que o reitor bateu as palmas, e o prefeito, secundando-o com ar servil, exigiu silêncio, sua reverência deu as boas-vindas ao candidato, deplorou os seus dois meses de atraso nos estudos e pediu a todos a caridade de o ajudarem na Matemática e no Latim. Estava finalmente entre os muitos que Deus chamara e os poucos por Ele escolhidos – com um prato de carne assada e esparguete na frente, os ossos moídos pela fadiga e um sino de pranto na alma. Sem olhar os rostos que o rodeavam e começavam a inclinar-se para si, viu os rostos. Recebeu nos seus o peso de todos aqueles olhos. Aos primeiros interrogatórios respondeu que se chamava Nuno Botelho, ia fazer onze anos e tinha seis irmãos nos Açores. Educadamente, pediram-lhe que fizesse o favor de repetir. E como ficassem a olhar uns para os outros e a franzir os lábios e a encolher os ombros, sempre educadamente, teve a lucidez triste de pensar que talvez fossem cidadãos dum país em tudo diferente do seu. O mesmo no nome e na religião, sem dúvida. Porém, quanto ao nome, ao verbo e à origem dos seus santos, um país sem mar nem barcos e já muito distante da sua infância.
Após o recreio nocturno, seguiu a multidão dos seminaristas até à capela. Embrulhado no tropel dos passos que martelavam os sobrados e depois fizeram ranger as bancadas do templo, não pudera ainda aperceber-se de que ali as horas haviam sido subtraídas aos relógios. O tempo era a sineta de bronze, as filas intermináveis, o culto do silêncio, a proibição religiosa da alegria. Serviu-se dum manual de orações para seguir as rezas que a maioria aprendera já a reproduzir de cor. Compreendeu apenas que o Sono dos Justos, ao qual o salmo aludia, estava já clamando no deserto, dentro de si. A fadiga do corpo turvava-lhe o espírito, esvaziando-o de todas as emoções. Depois, já com as luzes do dormitório apagadas, desejou poder dissolver-se nas trevas e extinguir-se na noite enigmática do futuro. O som de esporas dos colchões, o sussurro dos vizinhos de cama e o chiar de murganho dos sapatos do prefeito perturbavam definitivamente o silêncio interior e esse desejo de sono e dissolução. Sabia que ia precisar de dormir muitas horas seguidas para conseguir superar o tumulto do mar e dos barcos, o qual perdurava dentro de si como uma surdez que lhe envolvia não um mas todos os sentidos. Não lhe fora dito ainda que, no outro dia e em quantos deviam seguir-se-lhe, viria sempre um prefeito às seis da manhã acordá-lo. Ele bateria as palmas ao longo daquele corredor de camas, os seminaristas pôr-se-iam religiosamente de pé, benzendo-se estremunhadamente, e a sua voz fria e madrugadora diria dum modo imperativo, difícil de reproduzir:
– Benedicamus domino!
– Deo gratias!
Quando estava quase a dissolver-se nesse sono sem princípio nem fim, do qual vieram a turvar-se todos os anos, recomeçaram a girar-lhe dentro da cabeça as turbinas dos barcos, o zumbido do motor da furgoneta atravessando a noite provinciana e também as vozes daqueles que, perto de si, continuavam a chamá-lo baixinho. Atormentava-os uma curiosidade minuciosa, feita de segredo e clausura, por mais esse naufrágio. Só que aquele náufrago, assim inquirido e misterioso, viera mesmo do mar e só ele trazia consigo a notícia dum passado açoriano.
Aterrorizou-o um pouco a ideia de ficar ali, abandonado à presença de tantos estranhos. De dormir entre gente vinda de todas as terras do seu país, falando a mesma língua, mas gente que não entendera ainda uma única das suas frases e jamais entenderia uma ideia, uma palavra que fosse de cada uma das suas frases...
Para não ter de continuar a responder-lhes e a não ser compreendido, decidiu agarrar na almofada e comprimi-la à volta dos ouvidos. A sua vida ia assim mergulhar num subterrâneo sem fundo nem altura. Nunca mais ele voltaria a ser igual a si mesmo. Então, abriu muito os olhos. Queria conhecer e ao mesmo tempo despedir-se, decifrar e compreender as formas que se modelavam no escuro do dormitório. Amá-las com ódio e odiá-las com amor, talvez. Vendo-as, não estranhou o arrepio e por isso voltou a cerrar os olhos com força. Surpreendeu-o então o facto de o rosto da mãe se ter iluminado, como numa aparição. Havia uma auréola de santa, ou tão-só uma estrela que parecia palpitar no coração da noite. Levado por tal ilusão, tentou sorrir-lhe. Contudo o sorriso dela era também feito de sombra. Não pôde resistir às sombras. Um sorriso assim doía mais do que a dor de estar vivo. Valia talvez um pranto ou um riso convulso. Ao sentir a boca torcer-se e fazer apelo a esse pranto, Nuno procurou suster toda a emoção dentro de si. Prometeu que não ia nunca chorar sobre as lágrimas e sobre a terra da infância. E que ia ser feliz.
© João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas, Lisboa, Círculo de Leitores, 1989 (reprodução autorizada pelo autor).